Por Darci Bergmann
Era por volta do ano 1950. Eu estava com quase dois anos de idade, quando meu pai decidiu sair de Linha Sampainho, então município de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Meu pai, assim como muitos gaúchos, rumou para o extremo oeste catarinense, onde as terras cobertas de florestas eram oferecidas pelas empresas de colonização por preços módicos. A colonização de Cunha-Porã começou em 1929, pela Cia Territorial Sul Brasil, dirigida pelo engº Carlos Culmey. Os lotes de terra em Palmitos já estavam todos vendidos e uma nova colônia foi projetada pelo engº Culmey, já em 1928. Por todos os lados daquela região catarinense abriam-se picadas e os assentamentos foram surgindo, entremeados por vilarejos, embriões das cidades que seriam depois.
Assim nasceu Cunha-Porã. Lembro-me do cenário, quando a vila ainda pertencia a Palmitos, da qual depois se emancipou, tendo como prefeito provisório Bernardo Max Bartz, em 20 de julho de 1958. O primeiro prefeito eleito foi o comerciante Arnaldo Krambeck.
Mas deixo um pouco de lado a história política da cidade. Quero aqui registrar as minhas impressões e da maneira mais fiel possível sobre uma época e um cenário do qual eu saí e reencontro 53 anos depois. É um choque que remete a emoções, surpresas e a constatação inevitável de que passamos pelo tempo e se a natureza não muda o estado das coisas a civilização humana o faz. Essas mudanças tem aspectos positivos, enquanto vistas pela ótica do que se supõe ser o progresso, com a tecnologia avançando sobre o que antes era natural e tinha o seu ritmo próprio. Mas traz questionamentos quando se percebe que a ocupação civilizatória deixa feridas abertas no meio natural. Sim, hoje até se fala em desenvolvimento sustentável, como se querendo conciliar o avanço da civilização com a preservação ambiental possível.
Mas deixo um pouco de lado a história política da cidade. Quero aqui registrar as minhas impressões e da maneira mais fiel possível sobre uma época e um cenário do qual eu saí e reencontro 53 anos depois. É um choque que remete a emoções, surpresas e a constatação inevitável de que passamos pelo tempo e se a natureza não muda o estado das coisas a civilização humana o faz. Essas mudanças tem aspectos positivos, enquanto vistas pela ótica do que se supõe ser o progresso, com a tecnologia avançando sobre o que antes era natural e tinha o seu ritmo próprio. Mas traz questionamentos quando se percebe que a ocupação civilizatória deixa feridas abertas no meio natural. Sim, hoje até se fala em desenvolvimento sustentável, como se querendo conciliar o avanço da civilização com a preservação ambiental possível.
Os índios chegaram antes de nós
Por relatos dos mais velhos, fiquei sabendo que índios caigangues, do grupo dos guaranis, já habitavam aquela região, assim como parte da Argentina e do Paraguai. Daí surgirem nomes como Cunha-Porã, que significa mulher bonita, Cunhataí, Caibi, Iporã e tantos outros. Lembro vagamente que eu tinha medo dos índios, já todos convertidos aos costumes dos colonizadores. Quando eu encontrava um grupo deles sentia um arrepio na espinha. Alguns falavam parcamente algumas palavras em português e perambulavam vendendo balaios e outros utensílios para os citadinos e colonos. Adotaram também alguns maus costumes como o consumo de bebidas alcoólicas, talvez um escape pela perda da sua identidade cultural. Alguns colonos diziam que eles não queriam trabalhar e faziam um julgamento pejorativo daquela gente que era pioneira em terras americanas. Certa vez vi uma cena que até hoje está bem acessível na minha memória. Eu estava lá pelos meus sete ou oito anos. Uma índia solitária havia bebido alguns tragos de cachaça e ficara sentada no chão, encostada numa parede. Seu olhar vagava perdido na paisagem. As vezes ela baixava a cabeça e apoiava sobre os joelhos como meditando. Alguns meninos se acercaram da índia, curiosos, penalizados quem sabe. Ninguém faltou com respeito e a índia ficou horas por ali sem ser molestada. No entanto, lá pelas tantas, a índia encolheu as pernas e o longo vestido e sem perceber deixou à mostra as partes íntimas. Seu corpo estava coberto apenas pelo longo vestido vermelho e nada mais. Isto foi o suficiente para que a gurizada espiasse aquela cena com interesse inusitado. A contemplação durou pouco porque as mães daquela época eram muito vigilantes e conservadoras. A gurizada foi instada a sair dali, ainda que se tratasse de uma rua, ou quase isso. Em decorrência desse fato, perdi o medo dos índios – eles eram gente como nós. Mais tarde percebi que esse povo tinha outro modo de vida e vivia da coleta de frutos, da caça e da pesca. Tirava da natureza todo o seu sustento. A sustentabilidade se dava porque a população indígena naquela região era pequena, nômade e o meio físico comportava o seu modo de vida. Já li coisas de autores que acusaram os índios brasileiros de depredadores, pois que faziam as coivaras, ou seja, queimadas controladas para o plantio de milho e mandioca principalmente. Mas convenhamos, é preciso olhar as proporções dos fatos. Era muito menos gente, portanto uma densidade populacional baixíssima e não havia o consumismo insaciável desses tempos de hoje. Nem o uso abusivo de agrotóxicos, marca registrada de uma agricultura muito mais predatória. Os colonos almejavam produzir, usando meios ainda rudimentares de arar a terra com o arado de boi e também faziam uso sistemático das queimadas.
Bandeirantes de olhos azuis
Os colonos que chegavam repetiam a saga dos bandeirantes no que se refere a conviver com a Natureza ainda intacta. A natureza não era hostil, tanto que os índios, ou bugres como eram chamados, entranhavam-se na selva repleta de animais considerados como agressivos pelos descendentes de europeus daquela época. Os mosquitos, as serpentes venenosas, as onças-pintadas, os porcos-do-mato e outros animais estavam no seu ambiente de sempre e a periculosidade que lhes atribuíam era motivo para alguns subjugarem a natureza, dominando-a para o reinado absoluto da espécie humana. Esta visão de mundo tinha sido estimulada desde a vinda dos portugueses e até o texto bíblico por vezes era invocado para justificar a ocupação das terras e os desmatamentos sem qualquer controle. O paraíso existia ali e tinha gente convivendo com ele, mas a ideologia da civilização já estava delineada numa espécie de economia de mercado e globalização que se expandiu com o avanço da navegação marítima. Assim, era questão de tempo para que os avanços tecnológicos, com a indústria automotiva descoberta na Alemanha e a fartura de petróleo, acelerassem a ocupação das terras ainda virgens em muitas partes do Planeta.Não foi diferente no Brasil e em especial no Extremo Oeste de Santa Catarina. As cidades floresceram com base na pujança da agropecuária e das indústrias alimentadas pela matéria prima local. As estradas eram abertas na base de pás e picaretas e os tocos arrancados com ajuda dos bois. Mas logo em seguida, lá pelos anos 1940, os caminhões já penetravam naquelas áreas de difícil acesso em muitos trechos e dali retiravam madeiras de pinho (Araucaria angustifolia) e de outras espécies nobres, hoje escassas e valiosíssimas.
Naquela época, havia quem derrubasse as matas e a maior parte da madeira era queimada. O intuito era limpar a área e fazer o plantio de milho e feijão com as semeadeiras manuais num primeiro momento. Depois, com o destocamento, os arados de bois eram utilizados no amanho da terra.
As serrarias, movidas com as máquinas a vapor - as mesmas das locomotivas dos trens tipo maria fumaça - eram numerosas. Dali saia a madeira para a construção das casas e galpões e também as pranchas de pinho que depois eram levadas para o Rio Uruguai em Mondaí e outras localidades, formando as balsas.O então Instituto Nacional do Pinho determinava que a exportação dessa madeira não poderia se dar sob a forma de toras brutas.
Outras espécies nobres eram levadas na forma de toras diretamente para os pontos de amarração das balsas e depois, com as enchentes, desciam pelo Rio Uruguai até São Borja.
Eu tinha uns oito anos e acompanhei um tio meu de nome Jacó na derrubada de uma enorme araucaria seca no meio da mata virgem. Ela seria transformada em tabuinhas para cobertura das casas.As telhas de barro eram escassas nessa época. Tio Jacó só derrubava árvores secas e justificava isso dizendo que quando eu estivesse crescido, os matos daquela região estariam quase extintos, assim como os pinhais. Tinha consciência de que a fartura de madeira nativa não continuaria por muito tempo, como de fato se constatou mais tarde.
O contato com esse cenário é que me sensibilizou na adolescência para escolher uma carreira voltada ao meio rural, com forte inclinação para o tema ambiental e valorização das matas.
Naquela época, havia quem derrubasse as matas e a maior parte da madeira era queimada. O intuito era limpar a área e fazer o plantio de milho e feijão com as semeadeiras manuais num primeiro momento. Depois, com o destocamento, os arados de bois eram utilizados no amanho da terra.
As serrarias, movidas com as máquinas a vapor - as mesmas das locomotivas dos trens tipo maria fumaça - eram numerosas. Dali saia a madeira para a construção das casas e galpões e também as pranchas de pinho que depois eram levadas para o Rio Uruguai em Mondaí e outras localidades, formando as balsas.O então Instituto Nacional do Pinho determinava que a exportação dessa madeira não poderia se dar sob a forma de toras brutas.
Outras espécies nobres eram levadas na forma de toras diretamente para os pontos de amarração das balsas e depois, com as enchentes, desciam pelo Rio Uruguai até São Borja.
Eu tinha uns oito anos e acompanhei um tio meu de nome Jacó na derrubada de uma enorme araucaria seca no meio da mata virgem. Ela seria transformada em tabuinhas para cobertura das casas.As telhas de barro eram escassas nessa época. Tio Jacó só derrubava árvores secas e justificava isso dizendo que quando eu estivesse crescido, os matos daquela região estariam quase extintos, assim como os pinhais. Tinha consciência de que a fartura de madeira nativa não continuaria por muito tempo, como de fato se constatou mais tarde.
O contato com esse cenário é que me sensibilizou na adolescência para escolher uma carreira voltada ao meio rural, com forte inclinação para o tema ambiental e valorização das matas.
Descendentes dos Bergmann, Renner e Kempfer
Outras fotos de Cunha-Porã












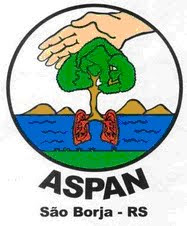
Nenhum comentário:
Postar um comentário